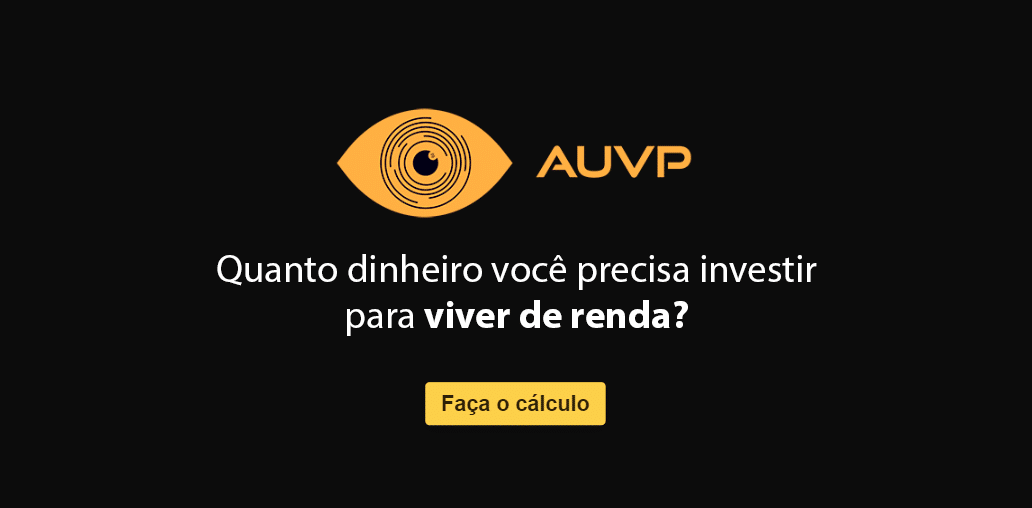13 de novembro de 2025 - por Wilker Fagundes

Os Estados Unidos acabaram de sair do mais longo shutdown da sua história recente. Depois de mais de seis semanas de governo parcialmente paralisado, Senado e Câmara aprovaram um projeto de financiamento emergencial, e o presidente Trump sancionou a lei para reabrir as atividades federais, ao menos até o fim de janeiro de 2026.
À primeira vista, parece apenas mais um capítulo de briga partidária em Washington. Mas, olhando atentamente o mercado, esse episódio diz muito sobre o momento atual da economia americana e o tipo de risco que o investidor global, inclusive o brasileiro, precisa colocar no radar.
Qual é o plano de fundo do shutdown norte-americano?
Dessa vez, o gatilho foi a disputa em torno dos subsídios do Obamacare (ACA) e cortes em programas de saúde embutidos no pacote de consolidação fiscal conhecido como One Big Beautiful Bill Act. O Congresso deixou expirar subsídios ampliados que vinham desde a pandemia, ao mesmo tempo em que empurrou cortes adicionais em benefícios de saúde; o impasse entre democratas e republicanos sobre como (ou se irão) recompor esses subsídios, travou a aprovação do orçamento e levou ao shutdown.
Ou seja, não foi um “detalhe técnico”: o conflito é sobre quem paga a conta do ajuste fiscal e quem perde proteção social no processo. Isso importa porque:
- Reforça a percepção de polarização extrema na política americana;
- Expõe a dificuldade de conciliar sustentabilidade da dívida pública com manutenção de programas sociais;
- Sinaliza que o orçamento federal continuará sendo arma de guerra política – não exceção.
O acordo que encerra o shutdown é, de fato, um remendo temporário: garante financiamento integral para alguns departamentos até o fim do ano fiscal de 2026, mas só prorroga os demais até 30 de janeiro de 2026. Ou seja, o mercado já sabe que existe uma grande chance de novo embate orçamentário em poucos meses.
O tamanho da pancada econômica
Shutdowns curtos tendem a gerar ruídos. E este não foi curto. Projeções de casas como Morgan Stanley e EY Parthenon estimam que cada semana de shutdown reduz o PIB em cerca de 0,1 ponto percentual, com perdas de bilhões de dólares por semana em atividade econômica, salários não pagos e consumo adiado.
Uma análise do governo americano calculou que um fechamento de um mês poderia:
- Cortar dezenas de bilhões de dólares em consumo;
- Aumentar o desemprego em dezenas de milhares de pessoas;
- Gerar perdas permanentes de produto, que não são recuperadas mesmo depois que o governo reabre.
A diferença deste episódio para shutdowns anteriores é a duração e o timing: ele ocorre num momento em que o crescimento dos EUA já vinha desacelerando depois do ciclo de alta de juros mais agressivo em décadas.
O mercado e o próprio Fed dependem fortemente de dados de alta frequência (inflação, payroll, gastos do consumidor) para calibrar quando e quanto cortar juros.
O shutdown simplesmente apagou a luz do painel de instrumentos e diversos indicadores oficiais deixaram de ser publicados, justamente quando havia dúvida sobre a força do mercado de trabalho e a trajetória da inflação.
Isso tem um efeito indireto, mas poderoso: aumenta a incerteza da política monetária. Se o Fed enxerga menos, no mínimo, ele é forçado a ser mais cauteloso nos cortes. Para mercados que vinham precificando cortes expressivos em 2026, isso é relevante.
A economia americana já não está no “melhor dos cenários”
Antes mesmo do shutdown, o cenário dos EUA já era de normalização:
- Inflação havia caído do pico pós-pandemia, mas seguia acima da meta em alguns núcleos;
- O mercado de trabalho dava sinais de perda de fôlego, porém ainda apertado;
- O déficit fiscal seguia elevado, com dívida pública projetada em trajetória ascendente na próxima década.
Relatórios recentes de bancos e consultorias vinham alertando para um “trade-off” cada vez mais explícito: aceita-se um crescimento um pouco mais fraco para controlar a inflação, ou uma inflação um pouco mais alta para não provocar um pouso forçado da economia.
O shutdown entra justamente nesse contexto como um choque fiscal negativo de curto prazo, que pode:
- Reduzir a demanda agregada por algumas semanas (salários atrasados, consumo adiado, contratos suspensos);
- Postergar ou deturpar a publicação de dados importantes;
- Adiciona ruído político à narrativa de “soft landing” que embalava parte do mercado.
Em outras palavras: ele não é o protagonista da história macro americana, mas é o coadjuvante que complica o roteiro.
E os mercados? A reação foi mesmo “limitada”?
Historicamente, o mercado acionário americano costuma reagir pouco a shutdowns, principalmente se o consenso for de que o episódio será curto. Estudos recentes de gestoras globais mostram que, na média, o S&P 500 cai pouco ou quase nada durante shutdowns e, às vezes, até sobe, porque o mercado olha mais para lucros corporativos e juros do que para o ruído político de curto prazo.
Mas esta vez trouxe alguns elementos adicionais:
- A duração recorde do shutdown começou a pesar no sentimento de consumidores e empresas;
- Setores ligados a contratos federais, pesquisa, fiscalização, educação e transporte sofreram mais com atrasos e incerteza regulatória;
- Houve preocupação explícita em relatórios de research sobre a falta de dados econômicos, dificultando o price discovery (oferta e demanda) em juros e câmbio.
Na prática, o que se viu foi um movimento clássico: corrida para Treasuries mais curtas em momentos de estresse, dólar fortalecido em alguns dias de maior aversão ao risco e aumento da volatilidade em ativos mais sensíveis ao ciclo econômico global.
A reabertura do governo, obviamente, foi recebida com alívio tático, bolsas reagiram positivamente ao avanço do acordo no Senado e à votação final na Câmara, e parte do prêmio de risco embutido nas curvas de juros começou a ser devolvida.
Mas o alívio vem com ressalvas: o acordo é temporário e não resolve o problema estrutural de fundo, que traz a combinação de dívida alta, déficit persistente e um sistema político que usa o orçamento como arma.
O que esse episódio revela sobre o risco americano hoje?
Para o investidor que olha apenas para o preço diário do S&P, shutdown parece “barulho”. Para quem pensa em alocação global com horizontes mais longos, ele é um sintoma de algo maior.
Risco político nos EUA deixou de ser irrelevante:
A ideia de que “nos EUA tudo funciona, o risco ocorre somente nos países emergentes” é cada vez menos verdadeira. Um país que fecha o governo federal por mais de quarenta dias, disputa subsídios essenciais e ameaça demitir milhares de servidores públicos em meio ao impasse, está sinalizando ao mundo que sua governança fiscal não é tão à prova de falhas quanto se supunha.
O ocorrido também reforça um ponto que vinha ganhando corpo entre analistas de dívidas soberanas: a trajetória fiscal americana é um risco de longo prazo para o próprio status do dólar como ativo de reserva. Isso não quer dizer que esse status vai mudar amanhã, pois não há substituto óbvio, mas quer dizer que o prêmio exigido para financiar essa dívida pode subir ao longo do tempo.
Expõe também um trade-off político: para manter programas sociais e subsídios de saúde sem aumentar impostos de forma impopular, o governo precisa de crescimento robusto e juros mais baixos. Se o Fed manter juros altos por mais tempo para domar a inflação, a conta política e social do ajuste cresce. O shutdown é, em parte, a manifestação concreta desse conflito.
E o investidor brasileiro no meio disso tudo?
Para o investidor brasileiro que acompanha o site do Investidor Sardinha, a pergunta prática é: “o que tudo isso muda para mim?”
A resposta não é “fuja dos EUA” nem “ignorem o problema”. A resposta é entender que: ativos americanos continuam sendo o centro de gravidade do sistema financeiro global. Mas, carregar o risco dolarizado hoje, significa aceitar que o “risco EUA” inclui não só lucros corporativos, mas risco fiscal e político real.
Na renda variável, episódios como o shutdown tendem a ser janelas de volatilidade que podem abrir oportunidades em empresas de qualidade, desde que o investidor não confunda ruído de fluxo com mudança estrutural.
Na renda fixa, a combinação de dívida elevada e disputas orçamentárias reforça o argumento de que treasuries longas não são “livres de risco”, e sim o ativo contra o qual todos os outros riscos são precificados. O prêmio exigido por essa segurança pode variar e variações de poucos décimos na taxa longa fazem grande diferença na precificação de ativos globais, inclusive no Brasil.
Para o Brasil, cada grande crise política ou fiscal em Washington tende a significar:
- Momentos de dólar mais forte;
- Períodos de maior sensibilidade do fluxo estrangeiro para nossa bolsa e nossos títulos;
- Uma correlação ainda mais estreita entre decisões do Fed e trajetória de ativos locais.
Ignorar isso é operar no piloto automático, e enxergar o quadro completo é saber onde o risco realmente está.
Em que ponto estamos agora?
Com o acordo aprovado no Senado, na Câmara e sancionado pela Casa Branca, o governo americano reabre e servidores voltam ao trabalho. Os dados econômicos também voltam a ser publicados e o mercado respira um pouco mais aliviado.
Mas o investidor atento não deve ler esse episódio como “problema resolvido” , e sim como um sinal:
- Sinal de que a política fiscal americana será um fator recorrente de ruído;
- Sinal de que o Fed, já navegando num cenário de dados mistos, terá de calibrar decisões de juros em um ambiente institucional mais instável;
- Sinal de que o prêmio exigido para financiar o déficit dos EUA pode ser um dos temas macro centrais dos próximos anos.
O shutdown de 2025 termina, mas a mensagem que ele deixa para quem pensa em alocação global é clara: a economia americana continua sendo o eixo do sistema, mas a qualidade institucional desse eixo já não pode ser tratada como garantida. E, para o investidor inteligente, isso não é motivo para pânico, porém é preciso ajustar o mapa de riscos antes da próxima turbulência.